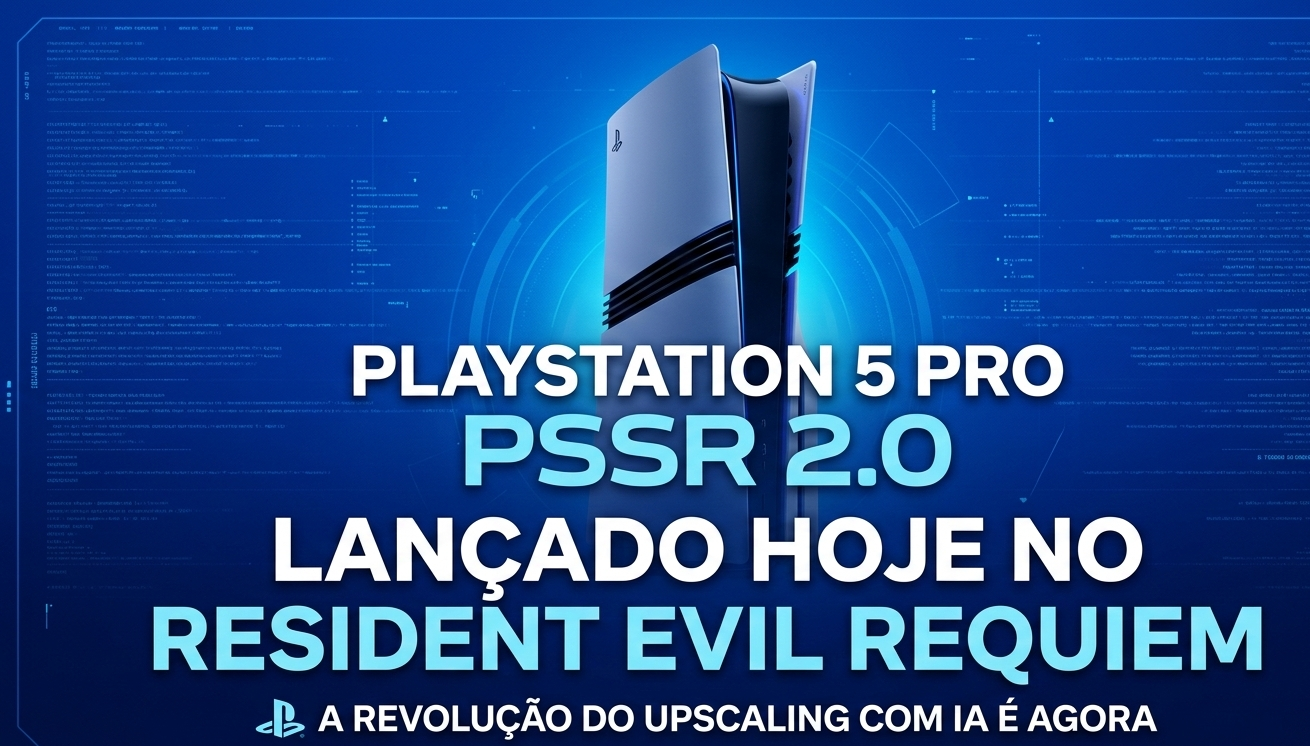Quem viveu os anos 90 no Brasil sabe muito bem: comprar um jogo naquela época estava longe de ser simples. Não havia e-commerce, trailers online ou qualquer tipo de comparação de preços automática. Em vez disso, a experiência era quase uma jornada épica — cheia de camelôs, locadoras, revistas especializadas e, acima de tudo, muita expectativa. Na prática, tudo exigia improviso. No Brasil da inflação descontrolada, dos consoles sem suporte oficial e dos cartuchos que custavam mais do que o salário mínimo, montar uma pequena coleção de jogos era um feito quase heroico. Ainda assim, essa era formou uma geração inteira de jogadores apaixonados.
Cartuchos: relíquias caras em prateleiras modestas
Nos consoles da época — como o Super Nintendo, o Mega Drive e o Nintendinho — os cartuchos eram reis. Eles ocupavam vitrines em lojas pequenas, ficavam trancados em balcões ou até empilhados no fundo de feiras e bancas de camelô. Em muitos casos, bastava ver uma capa chamativa para despertar o desejo.
Por outro lado, os preços eram proibitivos. Em 1995, um cartucho original de Super Nintendo custava, em média, R$ 120 — o equivalente a mais de R$ 800 hoje, segundo cálculos com base no IPCA (IBGE). Consequentemente, poucas famílias conseguiam bancar esse tipo de investimento com frequência.
Diante desse cenário, era comum recorrer a cartuchos usados, trocas entre amigos ou à pirataria — que rapidamente se tornou parte fundamental do ecossistema gamer nacional.
Pirataria: necessidade, não escolha
Na ausência de opções acessíveis, a pirataria encontrou terreno fértil no Brasil. Em feiras livres, lojas de bairro e camelôs, versões paralelas de cartuchos dominavam o mercado. Eram mais baratas, claro, mas também menos confiáveis. Muitas vezes, vinham sem caixa, manual ou até mesmo com o jogo errado gravado no chip.
Quando o PlayStation 1 chegou ao país em 1995, a situação se intensificou. Graças ao uso de CDs, a pirataria se espalhou como fogo. Um jogo paralelo custava cerca de R$ 10, e era vendido com capa impressa em papel comum, muitas vezes borrada. Mesmo assim, funcionava — e se tornou a principal porta de entrada da classe média e baixa no universo dos games.
Curiosamente, esse mercado informal teve um efeito paradoxal: embora ilegal, foi crucial para popularizar as franquias da Sony, como Gran Turismo, Resident Evil e Final Fantasy VII. De acordo com a IGN Brasil, esse fenômeno de acesso facilitado ajudou a sedimentar a base de jogadores que sustenta a indústria hoje.
As locadoras: templos sagrados da molecada
Mas nem todo mundo comprava. Na verdade, a maioria alugava. As locadoras de games eram um fenômeno cultural à parte. Por um preço bem mais acessível — em torno de R$ 3 por dia, segundo ex-funcionários entrevistados pelo portal GameHall — era possível jogar os lançamentos do momento e, de quebra, conversar com outros jogadores, trocar dicas e disputar campeonatos informais.
Algumas locadoras permitiam jogar no próprio local, pagando por hora. Outras faziam “promoção de fim de semana”, entregando o cartucho na sexta e pedindo de volta só na segunda. O dono da locadora virava uma figura quase mítica, aquele que sabia quais jogos eram bons, quais estavam chegando e quais valiam a pena arriscar.
Revistas: o Google dos anos 90
Hoje, antes de comprar um jogo, você assiste a um vídeo no YouTube, lê um review no Metacritic, vê gameplay ao vivo no Twitch. Mas nos anos 90, a fonte de informação era outra: as revistas especializadas.
Títulos como Ação Games, Super GamePower e Nintendo World vendiam milhares de exemplares por mês. Elas traziam análises, detonados, dicas de truques e até entrevistas com desenvolvedores. Tudo era impresso com paixão — e influência. Uma boa nota na GamePower podia esgotar o jogo nas locadoras em poucos dias.
As revistas também serviam como guia de consumo. A gente decidia o que pedir de presente ou o que procurar na feira com base no que leu naquela edição do mês.
A vitrine era a capa
Sem vídeos, sem gameplay, sem avaliações no Steam. Na maioria das vezes, a escolha de um jogo se resumia à capa. Consequentemente, a arte da embalagem se tornava decisiva. Capas como as de Mortal Kombat II, Donkey Kong Country e Top Gear se tornaram ícones da memória afetiva dos gamers brasileiros.
Claro que isso tinha seus riscos. Muitos foram enganados por artes bem-feitas que escondiam jogos fracos. Mas, por outro lado, também houve descobertas incríveis feitas no puro instinto — e isso tornava tudo mais emocionante.
Uma paixão forjada nas dificuldades
Apesar de todos os obstáculos — ou talvez por causa deles — jogar videogame nos anos 90 no Brasil era uma experiência inesquecível. A escassez fazia cada jogo parecer mais valioso. As dificuldades criavam laços. Além disso, as alternativas improvisadas alimentavam a criatividade: crianças e adolescentes daquela época colavam etiquetas nos cartuchos, decoravam códigos de trapaça, trocavam jogos no recreio e passavam horas discutindo estratégias de RPG. O acesso era limitado, mas a paixão era ilimitada.
Conclusão: um jogo chamado Brasil nos anos 90
Hoje, com bibliotecas digitais, promoções diárias e acesso global instantâneo, é difícil imaginar o que significava comprar um jogo nos anos 90. Era difícil, sim. Mas também era mágico. Não havia abundância, mas havia envolvimento. Além disso, cada cartucho comprado, alugado ou pirateado era um capítulo de uma história maior. Uma história coletiva, feita de descobertas, frustrações e muita alegria. E mesmo que a tecnologia tenha evoluído, aquele sentimento de abrir um jogo novo — ou novo para você — permanece até hoje como uma das grandes emoções de ser gamer.
Promoção de Inverno da PSN 2025: descontos de até 80% em jogos para PS4 e PS5
Por que tantos jogos AAA estão sendo adiados em 2025?
EA Sports FC 26: Novidades, Zlatan na capa e data de lançamento